O assédio às empresas americanas
O assédio às empresas americanas' - 'Harassment of American companies

Foi uma das implosões mais públicas e dolorosas das marcas conscientes socialmente, mas está longe de ser a única.
Apenas nos últimos meses, o boicote à Bud Light tem dividido manchetes com reações semelhantes dos clientes contra a Target e a Kohl’s por venderem mercadorias relacionadas ao orgulho LGBTQ; escaramuças contínuas entre a Disney e o governador Ron DeSantis em relação à oposição da empresa à legislação “Não Fale Gay” da Flórida; e uma onda crescente de desafios legais a empresas e investidores por suas políticas de diversidade, equidade e inclusão.
Com as eleições de 2024 a apenas um ano de distância, “vai ficar mais difícil antes de ficar mais fácil”, adverte Tom Lyon, professor de economia que dirige um programa focado em sustentabilidade na Ross School of Business da Universidade de Michigan.
A estratégia de marketing aparentemente inofensiva da Bud Light da AB InBev acabou quebrando o primeiro mandamento não dito do evangelho corporativo nesta era politicamente dividida e desconfortável: Tu deves abraçar causas sociais e ambientais, especialmente se isso ajudar a vender mais coisas, mas esse abraço absolutamente não pode custar dinheiro à empresa.
- Sam Bankman-Fried parece bastante culpado – então por que ele...
- Uma empresa de contabilidade está enfrentando a escassez de talento...
- O segundo homem mais rico do mundo, Bernard Arnault, da LVMH, está ...
Está mais difícil do que nunca seguir isso. A conclusão violenta da presidência de Donald Trump (e seu retorno como candidato nas eleições de 2024), a pandemia dolorosa, a crescente conscientização sobre os efeitos devastadores das mudanças climáticas e o amplo acerto de contas com o racismo sistêmico estão entre os fatores que contribuíram para um cenário hiperpartidário e pós-factual.
As empresas se encontram tropeçando em um caminho rapidamente estreitado entre as cercas de arame farpado das expectativas elevadas dos consumidores e do trolling político bem-organizado.
“Este é um momento incrivelmente estranho na política americana”, diz Lyon. “E para as empresas, é realmente muito difícil lidar com isso.”
Candidatos presidenciais declaram guerra às corporações “acordadas”, e doadores ricos discretamente direcionam dinheiro para processos judiciais e campanhas online organizadas contra empresas e instituições civis.
“Não há nada que alguém possa fazer para se defender desses ataques, particularmente em relação a processos judiciais”, diz Atinuke Adediran, professora associada da Faculdade de Direito da Universidade de Fordham, que estuda raça, direito e esforços de diversidade corporativa. “Você pode não estar fazendo nada e ainda ser processado.”
Navegar por tudo isso não é fácil. E os efeitos financeiros são reais: a Target perdeu US$ 9,25 bilhões em valor de mercado de maio a meados de setembro, calcula a ANBLE, e a AB InBev perdeu US$ 16,36 bilhões desde o início do boicote ao vídeo de Mulvaney.
Mas em meio a essa reação implacável – nos meios de comunicação, na opinião pública e no mercado – algumas empresas têm respondido suavizando rapidamente ou recuando em seus abraços públicos a princípios sociais e ambientais.
Agora, as empresas que não incorporaram verdadeiramente as convicções que pregam em suas operações – incluindo a preparação para lidar com reações contrárias – são vistas como fracas e criticadas pela esquerda e pela direita.
A AB InBev respondeu ao boicote declarando que aderiria à publicidade em torno de esportes ou música. Dois de seus executivos de marketing também entraram em licença, disse a empresa em abril. A Target, que culpou a queda nas vendas pelo boicote e citou ameaças a lojas e funcionários, removeu algumas de suas mercadorias relacionadas ao LGBTQ das lojas e em agosto disse aos investidores que celebraria o Orgulho de forma mais discreta no futuro, vendendo uma “assortment” mais focada de mercadorias relacionadas. (Representantes da AB InBev e da Target se recusaram a comentar.)
Enquanto isso, empresas como Netflix, Disney e Warner Bros. Discovery se separaram de executivos de diversidade, equidade e inclusão de alto nível.
Ampliando a discussão além das empresas voltadas para o consumidor para o campo dos investimentos ESG – um setor em crescimento há muito tempo defendido por figuras poderosas como o CEO da BlackRock, Larry Fink – os recuos são semelhantes. Assim como os ataques: procuradores-gerais republicanos de mais de 20 estados estão processando ou pressionando gestores de ativos, empresas individuais e a administração Biden em relação a várias questões relacionadas ao ESG.
Agora, até mesmo Fink está abraçando o regime autocrático produtor de petróleo da Arábia Saudita, nomeando o CEO da Saudi Aramco para o conselho da BlackRock.
Portanto, vale a pena perguntar: A América corporativa teve coragem em suas convicções socialmente conscientes desde o início?
O defeito fundamental do capitalismo de stakeholders
A pesquisa sobre o surgimento do chamado capitalismo de stakeholders é bastante condenatória.
O conceito remonta décadas atrás, mas realmente ganhou destaque em 2019, quando a influente associação de CEOs conhecida como Business Roundtable declarou (e elaborou em uma matéria de capa da ANBLE) que abandonaria sua longa priorização dos interesses dos acionistas acima de tudo. Em vez disso, eles afirmaram que os membros se comprometeriam a “entregar valor a todos” os stakeholders.
As empresas ainda buscariam os lucros esperados pelos investidores, é claro, mas eles insistiram que poderiam simultaneamente fazer mais para investir em funcionários, clientes e suas comunidades em geral, e promover diversidade, inclusão e sustentabilidade.
No entanto, apenas um ano depois, pesquisadores de Harvard descobriram que o compromisso da Business Roundtable era “em grande parte apenas para mostrar”.
E em 2022, uma pesquisa do Brookings com 22 grandes empresas que empregaram trabalhadores da linha de frente durante a pandemia, incluindo 18 que assinaram o compromisso da BRT, descobriu que a maioria não pagava consistentemente um salário digno.
“O capitalismo de stakeholders e o investimento em ESG tinham essa narrativa de ‘ganha-ganha’ e que não há troca entre ter sucesso financeiro e fazer o bem social”, diz Denise Hearn, pesquisadora sênior residente no Center on Sustainable Investment da Universidade de Columbia. “O problema é que os lucros têm que vir de algum lugar”, ela acrescenta, “e estão cada vez mais vindo da mineração dos stakeholders e de seu bem-estar”.
Essa retórica de “ganha-ganha” causou algumas contorções corporativas constrangedoras. Executivos e entidades corporativas fizeram pronunciamentos e promessas vagamente pró-meio ambiente e pró-diversidade que seus funcionários e clientes esperavam, e contrataram equipes focadas em diversidade, equidade e inclusão e sustentabilidade – ao mesmo tempo em que afirmavam que essas medidas não afetariam os negócios de forma alguma. Eles argumentavam que poderiam atender aos stakeholders e continuar lucrando muito.
Essa abordagem levou a algumas dissonâncias cognitivas: produtores de petróleo e gás assinando compromissos de “proteger o meio ambiente”; marcas que exaltam suas posições éticas enquanto continuam a operar suas cadeias de suprimentos por regiões conhecidas por abusos aos direitos humanos; empresas que prometeram “investir em nossos funcionários” demitindo milhares ou opondo-se a movimentos trabalhistas em suas instalações.
Não é de se admirar, então, que termos como “greenwashing”, “pinkwashing”, “rainbow washing” e “performative allyship” tenham entrado no léxico. (Ei, não custa nada postar um quadrado preto no Instagram!)
Muitas empresas simplesmente não calcularam antecipadamente os custos financeiros para realizar suas grandes ideias de capitalismo de stakeholders, diz Paul Washington, diretor do ESG Center for the Conference Board, um think tank de negócios. As empresas estavam fazendo suas promessas em uma “câmara de eco ESG”, diz ele, “onde elas não necessariamente tiveram as discussões críticas” primeiro.
Como exemplo, Washington destaca as promessas ambientais que muitas empresas fizeram, especialmente em torno de compromissos de “carbono zero” para reduzir as emissões de carbono.
“Esses compromissos têm implicações reais para o negócio. Neutralidade de carbono custa dinheiro, carbono zero custa dinheiro”, diz ele. “Você tem que reconhecer que, sim, a longo prazo, tudo isso beneficiará a todos. Mas, a curto prazo, existem sim trocas.”
O caminho a seguir para as empresas
Talvez esse status quo pudesse ter durado em uma era menos polarizada. Mas neste momento particularmente tóxico na política dos Estados Unidos, a falta de correspondência entre os esforços vazios da maior parte da América corporativa e sua retórica de bem-estar deixou muitas empresas vulneráveis.
Então, o que os líderes empresariais devem fazer agora que se encontram nesse dilema?
É tentador recomendar uma postura de tudo ou nada para futuros compromissos de “valores” corporativos. Para empresas que realmente querem abraçar causas ideológicas, existem modelos de estratégias coerentes – embora às vezes extremas – em ambos os lados do espectro político.
Na esquerda, temos a fabricante de vestuário outdoor Patagonia: o fundador Yvon Chouinard transformou sua empresa em uma organização sem fins lucrativos focada em financiar causas ambientais. Na direita, há um ecossistema crescente de startups explicitamente conservadoras que prometem serviços “anti-woke” aos consumidores.
Mas realisticamente, pouquíssimas empresas com fins lucrativos seguirão o exemplo da Patagonia. E as grandes empresas provavelmente não se tornarão ainda mais explicitamente partidárias e correrão o risco de alienar grandes segmentos de clientes.
Outro caminho, argumenta Lyon, da Universidade de Michigan, é para as empresas estabelecerem regras mais fortes e claras sobre quando e como se envolver – ou recuarem no ativismo corporativo vocal. Esse também é um caminho complicado, é claro, e pode parecer um retrocesso para o progresso tímido, mas real, que algumas empresas fizeram em termos de diversidade e sustentabilidade.
Mas, pelo menos em nível de relacionamento com o cliente, talvez as marcas devessem calar a boca sobre seus chamados valores.
Como apontou recentemente a colunista do New York Times, Lydia Polgreen, descrevendo como ela havia escolhido uma marca de pasta de dente simplesmente porque era a mais fácil de pegar na prateleira da farmácia: “Os consumidores tomam decisões por muitos motivos: preço, conveniência e marketing. Talvez política.”
Em outras palavras: até mesmo os liberais mais apaixonados ou os conservadores anti-“acordados” não têm tempo para pesquisar cada marca no supermercado.
É claro que muitas pessoas – especialmente os millennials e a geração Z – querem trabalhar para ou comprar de uma empresa que compartilhe seus valores e crenças. No caso da Bud Light, reconhecer que pessoas trans existem e também gostam de beber cerveja não deveria ter sido particularmente controverso. Mas, como Dylan Mulvaney mesma apontou em um vídeo online, as empresas não podem ter as duas coisas.
“Para uma empresa contratar uma pessoa trans e depois não apoiá-la publicamente é pior, na minha opinião, do que não contratar uma pessoa trans”, disse Mulvaney.
Talvez seja hora de responsabilizar as empresas por padrões mais elevados do que os do “capitalismo de partes interessadas”. O movimento foi projetado, em parte, para evitar regulamentações externas, para mostrar que as empresas poderiam se responsabilizar por si mesmas, sem serem forçadas.
Mas hoje, poucos à esquerda ou à direita foram convencidos pelos argumentos da América corporativa de que sua busca implacável por lucros (e sua consolidação na tecnologia, saúde e outras indústrias vitais que governam todos os aspectos de nossas vidas) também está servindo ao interesse público.
“É completamente ilógico em muitos casos”, diz Hearn, da Universidade de Columbia. “É difícil tornar as corporações os árbitros do bem social e público. Porque, em última análise, elas precisarão tomar as decisões que lhes garantam o maior lucro.”
Vai ser preciso mais do que promessas polidas de “valores” corporativos para quebrar esse imperativo centenário.
As empresas que acreditam que podem combinar lucro e propósito precisam mostrar resultados reais e defendê-los.
Este artigo aparece na edição de outubro/novembro de 2023 da ANBLE, com o título “O afrontamento da América corporativa”.



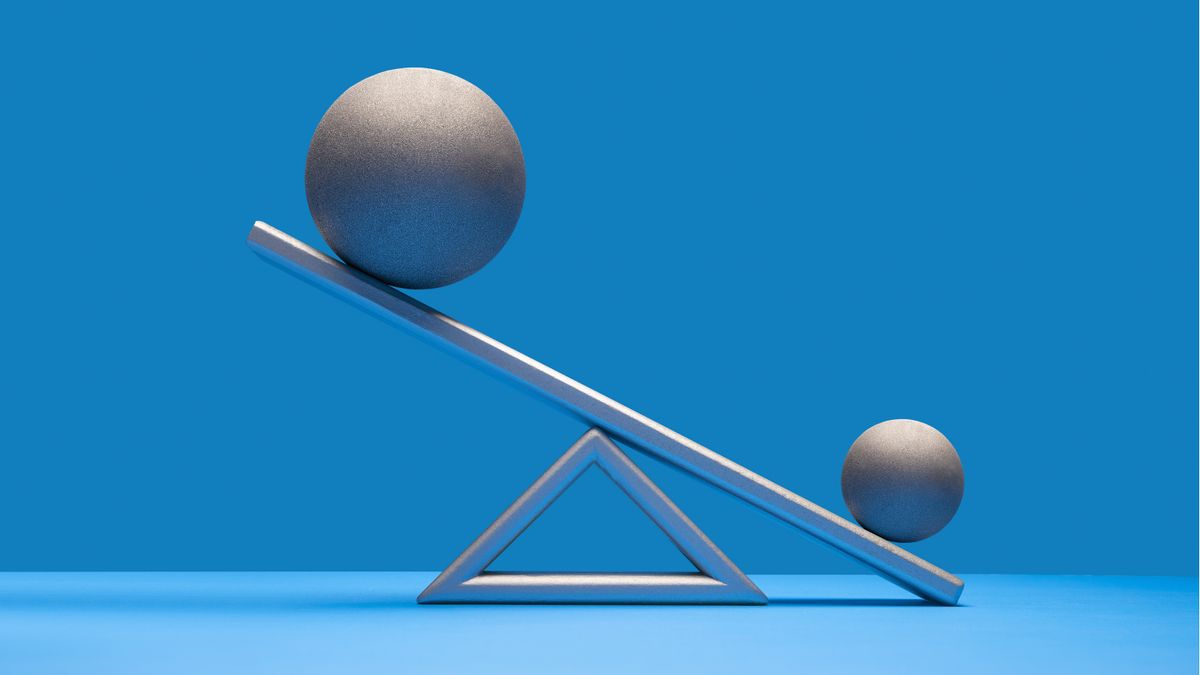
/cloudfront-us-east-2.images.arcpublishing.com/reuters/WODOLJXBAFJFNB5ZCQRDFOLEMM.jpg)

